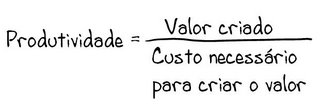Promotor da concorrência imperfeita e dos monopólios informais
O subtítulo do meu blogue é deliberadamente provocatório. Não porque defenda abusos, privilégios ou protecção estatal, mas porque recuso uma ideia profundamente enraizada, e profundamente errada, sobre o que é a concorrência "saudável".
Quanto mais usamos métricas, mais nos comparamos.
Quanto mais nos comparamos, mais nos organizamos em rankings.
E rankings são, por definição, jogos de soma zero.
Na vida real, e na economia real, o valor não é de soma zero. A obsessão com comparações empurra empresas para hierarquias artificiais, onde todas competem segundo os mesmos critérios, perseguem o mesmo "one best way" e acabam inevitavelmente numa corrida para o fundo. A verdadeira ambição não é estar no topo da hierarquia. É sair da hierarquia.
Durante demasiado tempo, falámos de concorrência como se fosse guerra ou desporto. Em ambos os casos, há um vencedor único, um conjunto fixo de regras e um prémio exclusivo. Mas os mercados não funcionam assim. Nos negócios, não há um único concurso. Há muitos concursos em simultâneo, com base em necessidades, clientes e propostas de valor distintas.
Quando todas as empresas tentam ser "as melhores" segundo os mesmos critérios, entram em rota de colisão. Copiam práticas, imitam produtos, comparam preços e acabam indiferenciadas. Os clientes, privados de escolha real, compram apenas com base no preço. As margens evaporam-se. A rentabilidade deteriora-se. Este é o Quadrante 1 em estado puro: commodity, fácil substituição, valor indiferenciado. Race to the bottom.
É precisamente aqui que entram os chamados "monopólios informais".
Não falo de monopólios protegidos pelo Estado, nem de crony capitalism. Falo de situações em que uma empresa consegue servir um determinado grupo de clientes de forma tão específica, tão distinta e tão difícil de comparar que escapa à concorrência directa. Pequenos monopólios funcionais, simbólicos ou relacionais, criados pela diferenciação - aquilo que Edward Chamberlin chamou concorrência monopolística e que tantos economistas sempre olharam com desconfiança, porque as marcas, a singularidade e a diferença estragam os modelos teóricos limpos.
Os exemplos das pequenas empresas de bens de consumo são esclarecedores. Muitas crescem mais, crescem mais depressa, praticam preços superiores e resistem melhor à erosão competitiva. Não por falcatrua ou ilegalidade, mas porque criam valor de forma diferente. Constroem propostas que não são facilmente substituíveis. Criam pequenos monopólios informais - e, com isso, retornos superiores.
É isto que entendo por subir na escala de valor.
É isto que significa sair do Quadrante 1 e mover-se para os Quadrantes 3 ou 4.
Nesses quadrantes, margens elevadas deixam de ser um problema moral. São frequentemente sinais de diferenciação real, de escassez construída ou de coordenação eficiente de um ecossistema. O preço deixa de ser o árbitro supremo porque deixa de haver comparação directa. É por isso que insisto que não existem boas-práticas universais: tudo o que é universal é, por definição, imitável — e tudo o que é facilmente imitável acaba inevitavelmente no Quadrante 1.
É também aqui que a regulação frequentemente se perde.
Quando a União Europeia fala de “preços excessivos”, “posição dominante” ou “abuso exploratório”, está a usar implicitamente uma lógica válida apenas para mercados de commodity. Assume que preço alto é abuso, que margem alta é falha de mercado, que dimensão implica exploração. Esses critérios fazem sentido no Quadrante 1. Aplicá-los a empresas dos Quadrantes 3 ou 4 é confundir a criação de valor com o abuso de poder.
Esta lógica, julgo que se encaixa bem com o que Javier Milei e Federico Sturzenegger, o ministro argentino da desregulação e transformação do Estado, escreveram num artigo publicado na revista The Economist do passado dia 17 sob o título “A plea to rein in regulators, not big companies”.
Segundo eles, o erro central do regulador europeu não é combater barreiras artificiais à entrada — isso é essencial. O erro é julgar mercados diferenciados com métricas pensadas para mercados indiferenciados. Ao fazê-lo, o regulador achata a paisagem competitiva, atacando os picos de Mongo. Desincentiva a diferenciação e empurra todo o sistema de volta para a concorrência de preço.
É precisamente contra isso que proponho Mongo: a ideia de que não existe uma única estrutura legítima de mercado. Num mundo Mongo há muitos picos, muitas formas de criar valor e espaço para coexistência. A verdadeira concorrência não elimina diferenças; amplifica-as.
Quando digo que sou promotor da concorrência imperfeita e dos monopólios informais, estou apenas a afirmar isto: a boa economia não nasce da uniformidade, nasce da diferença. E subir na escala de valor não é um truque de marketing — é uma mudança de quadrante, com todas as implicações estratégicas, culturais e, sim, políticas que isso acarreta.
Milei e Sturzenegger escreveram:
"The crucial question is not whether some firm currently has a large share, but whether entry is blocked — and, more often than not, it is the government itself that blocks entry."
Em Mongo:
- as barreiras tecnológicas → são aceitáveis (são o prémio do engenho);
- as barreiras organizacionais → são naturais (aprendizagem, coordenação);
- as barreiras regulatórias artificiais → são patológicas.
O regulador pensa que está a combater o "monstro grande". Na prática, está a proteger o pico único, impedindo novos picos de emergir.
Isto explica por que tantos sectores parecem "concentrados": não porque não haja alternativas possíveis, mas porque o sistema não permite experimentar novos picos.
Quanto mais uma empresa:
- se diferencia,
- constrói escassez,
- cria linguagem própria,
- redefine categorias,
mais parece “suspeita” a olhos regulatórios treinados no Quadrante 1.
Subir de quadrante é, inevitavelmente, um acto político.




%2014.19.jpeg)
%2013.36.jpeg)
%2013.33.jpeg)


%2017.14.jpeg)






%2021.59.jpeg)
%2011.29.jpeg)
%2016.21.jpeg)
%2016.41.jpeg)
%2016.56.jpeg)
%2017.03.jpeg)
%2017.29.jpeg)
%2017.29%20(1).jpeg)
%2017.30.jpeg)
%2017.30%20(1).jpeg)
%2011.44.jpeg)
%2018.01.jpeg)
%2009.53.jpeg)
%2011.45.jpeg)
%2010.12.jpeg)
%2009.59.jpeg)
%2010.29.jpeg)
%2006.21.jpeg)