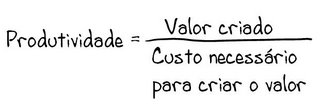No The Times do passado Domingo um texto de Matthew Syed, "Numbed by borrowing, we can't see how badly we need to go cold turkey".
Se, na Parte I, defendi que longos períodos de paz criam sistemas que acumulam fragilidades invisíveis, a leitura do artigo de Matthew Syed reforça esse diagnóstico aplicando-o directamente às democracias modernas. Se as economias que evitam recessões se tornam frágeis, também as sociedades que evitam desconforto político e social entram numa espiral semelhante: crescem sem músculo, sobrevivem sem regeneração e tornam-se incapazes de enfrentar desafios reais.
O autor usa uma metáfora brutal e certeira: não tomamos OxyContin, mas engolimos políticas públicas que funcionam como analgésicos potentes. Prometem conforto imediato, escondem custos futuros e criam dependência. E, tal como um organismo habituado a doses cada vez maiores, os eleitorados também desenvolveram um limiar de dor extremamente baixo. O autor não poderia ser mais directo:
"We have become a body politic with an ultra-low pain threshold."
Isto explica muita coisa. Explica por que tão poucos aceitam reformas estruturais. Explica por que qualquer tentativa de cortar privilégios — mesmo os insustentáveis — desencadeia tempestades políticas. Explica, sobretudo, a nossa parcimónia no que toca a aceitar pequenos sacrifícios agora para evitar grandes rupturas amanhã.
O resultado é semelhante ao das economias que eliminam as recessões: criamos um ambiente de suposta estabilidade que se torna cada vez mais tóxico. Tal como The Economist mostra que 15 anos sem recessões levaram à má alocação de capital, empresas zombi e produtividade estagnada, Syed mostra que 30 anos a evitar dor política produziram democracias exaustas, estagnadas e, em muitos casos, cínicas.
O trabalho de Ruchir Sharma, citado no texto, é revelador:
"in the seven largest democracies the combined stimulus from governments and central banks rose from 1 per cent of GDP in the recessions of the 1980s and 1990s to 3 per cent in 2001, 12 per cent in 2008 and 35 per cent in 2020. He writes: "The public - particularly homeowners, stockholders and bondholders - came to expect more help in every crisis … culminating in the shockingly large doses of government aid in the pandemic. Though inspired by a kind of paternalistic fear, these rescues are delivered with the growing certainty that the cure is not worse than the disease."
Esta expectativa de salvação automática é politicamente irresistível, mas corrosiva a longo prazo. Tal como recessões eliminam ineficiências, a política também precisa de momentos de dor para corrigir excessos, reequilibrar sistemas e restaurar responsabilidade. Evitar esses momentos equivale a programar uma crise maior.
A analogia histórica é igualmente perturbadora. O autor cita Will Durant:
"A nation, like a man, is born stoic and dies epicurean."
E a verdade é que o pós-1991 nos tornou epicuristas políticos: acreditámos que o sofrimento era opcional e que o progresso era garantido.
"After the collapse of the Soviet Union, we thought we'd won and utopia was our birthright."
Esse sentimento de invulnerabilidade - semelhante à paz prolongada que referi na Parte I - adormeceu a capacidade de aceitar custos, enfrentar dificuldades e tomar decisões difíceis.
A consequência é dupla:
1. Economias que crescem mais lentamente porque nunca são reestruturadas.
2. Democracias que se degradam porque nunca têm a coragem de contrariar expectativas instaladas.
A dor não desaparece. Apenas se acumula.
"Pain cannot be erased — only deferred. And deferred pain grows."
A The Economist fala de economias que perderam o seu ciclo de limpeza natural. Syed fala de democracias que perderam a capacidade de aceitar o desconforto. Ambas descrevem sistemas que caminham rumo a uma ruptura não por excesso de instabilidade, mas por excesso de estabilidade artificial.
A grande pergunta final - que Syed deixa no ar - é esta: estaremos dispostos a aceitar o "desmame" desta dependência colectiva? Ou preferimos continuar anestesiados até ao momento do colapso?
A resposta, claro, ainda não existe. Mas talvez seja esta a oportunidade: voltar a cultivar pequenos sobressaltos, pequenas reformas, pequenas dores — antes que fiquemos sem margem para evitar uma dor grande.
E, tal como defendi na Parte I sobre as economias, o mesmo se aplica às democracias: o desconforto não é uma ameaça à estabilidade — é a sua condição de possibilidade.
Se tivesse mais tempo trabalhava melhor a descrição do panorama:

%2018.21.jpeg)
%2014.47.jpeg)
%2011.40.jpeg)
%2019.55.jpeg)
%2012.55.jpeg)
%2012.42.jpeg)

%2014.01.jpeg)

%2014.15.jpeg)
%2012.01.jpeg)
%2020.34.jpeg)
%2013.21.jpeg)

%2017.28.jpeg)


%2013.04.jpeg)

%2015.05.jpeg)

%2018.50.jpeg)
%2006.21.jpeg)